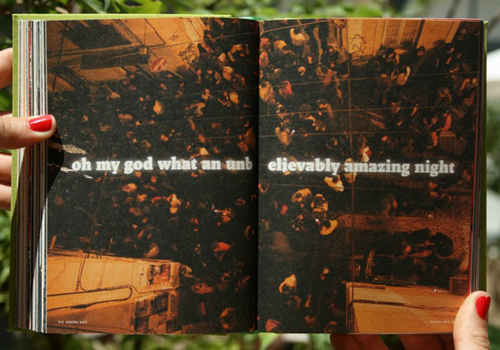Já ando há uns tempos, desde que voltei de férias, para escrever, para dizer o que ando a fazer. Seja aqui, seja em tantos emails que devo a tanta gente. Hão-de chegar, não sei bem quando.
Ora, como muitos saberão, a Elsa veio-me fazer companhia a este lado. Também aproveitei para sair do dormitório com nome de sumo e agora estamos no coração de Boston. Qualquer dia falo mais sobre a área, mas para já, podem-na ver aqui:
Como vinha dum dormitório mobilado, não tinha nada, portanto a primeira a coisa a fazer foi comprar móveis. Mas até eles chegarem…








Sim, eu sei, falta a casa de banho. Mas por agora é tudo.
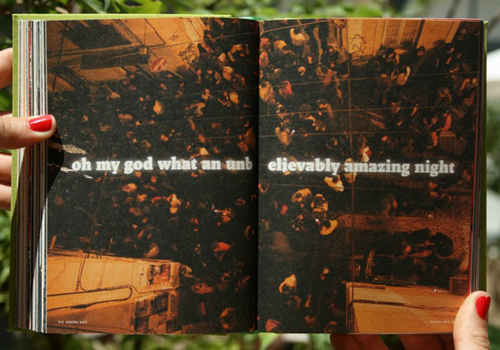
De volta. Já há uns tempos, eu sei, mas a vida tem dado pouco espaço. Dentro em breve digo coisas. Mas está tudo bem, obrigado.
Há pequenas coisas, aqui, de que gosto muito, como do copo de água fresquinha sempre na mesa, de que falou o Pedro, aqui. Mas há outras que são verdadeiramente irritantes. Lembrei-me duma delas depois de ler este post. Aqui o caso não é acharem que o cliente é ladrão, mas sim atrasado mental.
A situação mais comum prende-se com a carne mal-passada nos restaurantes. Eu, que salvo raras excepções acho que carne bem-passada é um atentado ao animal sacrificado, sempre que como um bife, peço que ele venha muito mal passado. Estou consciente dos riscos que existem e, caso não estivesse, pelo menos aqui no estado do Massachusetts, não há ementa que não avise que comer carne ou peixe crus ou mal-passados é perigoso e que o comensal incorre no risco de contrair doenças. Assim avisam os clientes e livram-se de potenciais processos motivados por gastroenterites e maleitas afins.
Assim, sempre que peço o bife, peço-o muito mal passada. Na grande maioria dos casos não me livro dum esgar desdenho-enojado enquanto assentam o pedido. Geralmente o bife vem, para os meus padrões, médio. Em alguns restaurantes que não estranham a prática, o bife vem quase cru. O problema é que à partida nunca sabemos que tipo de restaurante é e, geralmente, a maioria é dos que não gosta de servir carne mal-passada. Ainda assim, penso que o risco vale a pena.
No entanto, o olhar sobranceiro não é o pior. Em alguns casos, os empregados decidem tratar os clientes como mentecaptos e embarcam na filosofia do no fundo, no fundo, o cliente não quer o que está a pedir e eu tenho a obrigação moral de lhe fornecer o que é melhor para ele, que realmente, se ele soubesse, era aquilo que iria pedir. Geralmente a reacção é motivada por avanços anti-establishment, mas por vezes é genuinamente fruto duma qualquer necessidade de afirmação moral e paternalista.
Ora, há dias, num dos estabelecimentos da mui franchisada Subway, pedi uma footlong, entre cujos ingredientes se contavam pedaços de galinha. A fila era longa, portanto quando fiz o pedido, já tinha esperado um bom pedaço. Assim, para poupar mais espera e como costumam tostar um pouco a sanduíche para derreter o queijo, pedi para saltar o passo em que a senhora põe a galinha no microondas antes de a enfiar no pão. Há que dizer que a galinha vem do frigorífico, é verdade, mas já pré-processada e portanto não está crua, ou seja, o microondas não cozinha nada, só aquece. Além disso, tenho alguns gostos culinários pouco ortodoxos, em que um pedaço de carne fria no meio de pão quente é algo que até posso achar piada.
No momento em que fiz aquele pedido à senhora, como se diz por estes lados all hell broke loose. Começou com o já referido esgar desdenho-enojado seguido, de, “mas, mas não quer que aqueça?” Eu reafirmei as minhas intenções. Nisto a técnica de processamento de sanduíches começou a conversar com os demais colegas, em tom baixo, mas a olhar para mim – só faltou apontar. Muito burburinho, trechos de conversa que incluiam “ele não quer que aqueça“, “frio“, “cru“. Eu lá estava, como ave-rara, a ser fulminado pelos olhares dos empregados. Lá congeminaram uma estratégia destinada a minimizar a inépcia que tenho para controlar a minha própria vida. Assim, quando a sanduíche foi a tostar, prolongaram o tempo que a dita passou no forno. Quando me chegou às mãos, vinha mais escura e tostada que o normal – até nem estava nada mal, – mas penso que o mais importante para eles foi terem completado aquela missão com a sensação de que, talvez, por sorte, até tenham conseguido evitar que a alma daquele pobre pecador tenha caído nas garras dos demónios da carne crua.
Uma das (muitas) coisas estranhas no MIT é o turismo. Há centenas de pessoas por dia aí visitá-lo. Há visitas guiadas, excursões e muitas sessões fotográficas. É um pouco estranho ter pessoas aí visitarem o sítio onde trabalhamos. Uma pessoa passa aí compreender o que sentem os habitantes da Aldeia dos Macacos. E japoneses são aos magotes.
Eu trabalho no Media Lab um espaço ainda mais propício aí este tipo de coisas, pelas maluqueiras, geralmente mediaticas, que lá se fazem. Ainda para mais o espaço é propositadamente aberto para que possa ser visitado (com excepção do meu laboratório eu mais uns poucos).
Mas não há dúvida que aqui se respira um certo peso da história, se é que os pesos se respiram, coisa que nem sempre é fácil de sentir por estes lados.
Aqui, na zona de Boston/Cambridge ainda não vi um cocó de cão na rua. Com efeito, não vi nenhum tipo de cagalhoto, mole ou rígido, castanho escuro, ou mais para o amarelado. Não é que isso seja mau, mas por mais cuidados que sejam os donos, em Portugal há sempre qualquer coisita para podermos ziguezaguear no passeio. Pensando bem, ainda não vi um cão sem trela a deambular sozinho, seja ele vadio ou com dono.
No fundo, no fundo isto não tem grande importância e apenas escrevi estra entrada porque no outro dia, quando ia de bicicleta, pareceu-me ver um cocó de cão na rua e pensei para mim: — olha um cagalhoto, — e o mais curioso foi a palavra em si, que não usava há uns largos anos. Afinal não era, era só um pedaço de cartão.
Lembrei-me também d’O Homem Que Copiava.
No outro dia, a propósito de uma pergunta que eu fiz sobre a razão da existência da pink lemonade, um colega lá do laboratório saiu-se com esta: — “Sim, porque as laranjas também não são côr-de-laranja, são pintadas“. A princípio pensávamos que o homem estava na reinação. Afinal não. Estamos a falar dum doutorado em bioquímica.
Há erros legítimos que vêm de longe, no entanto, este é extraordinário. Escusado será dizer que deu para rir a bandeiras despregadas. No entanto, a história têm algo de verídico. Após deambulações pela net dei de caras com o antigo costume de se pintar laranjas. Ao que parece nos dias de hoje é proibido, no entanto antigamente servia para dar côr às laranjas que crescem em determinados sítios, onde o calor não é suficiente para fazer com que a coloração alaranjada tome lugar. E esta, hein?
Extraído de vários episódios do Portugalex um dos melhores programas de comédia dos últimos anos, a par dos Gatos.

Outra coisa que anda muitas vezes no corpo dum americano, para além do biberão, como lhe chamam os pais da Luísa é a sweatshirt da universidade em que se licenciaram.
Claro que para toda a gente, aqui ou aí, a passagem pela universidade é um marco importante na vida de quem passou por essa experiência, e recordar o sítio e o tempo onde parte da força da juventude foi investida é sempre um exercício que joga com as emoções, especialmente se for feito colectivamente. Assim, sem dúvida que andar com o nome da universidade ao peito é uma maneira de recordar um pouco esse tempo, mas mais que isso de mostrar aos outros de onde se vem.
Não penso que isso seja, na maioria dos casos, uma forma de mostrar superioridade, isto é, afirmar que se foi à universidade, ou mesmo dizer que “a minha universidade é melhor que a tua”. Haverá certamente casos em que sim, mas penso que a maioria usa por um sentimento subconsciente de identidade. Grande parte dos americanos que vai para a universidade (não as community colleges, que são uma espécie de pré-universidade para os mais desfavorecidos ou com fracos resultados académicos no liceu e que servem, muitas vezes, ou para uma formação básica, ou para corrigir trajectórias e relançar percursos académicos), vai pelo menos para fora da sua cidade, quando não, muitas vezes, para fora do estado. E mesmo dentro do estado, nem sempre dá para vir a casa ao fim-de-semana, como se faz muito em Portugal, ou pelas distâncias, ou pela falta de transportes, ou porque simplesmente não se faz.
Assim, muitos dos jovens quebram a ligação à terra natal aos 17, 18 anos e muitos não a reatam já que a mobilidade dos americanos é muito grande. Assim e apesar de serem só quatro a cinco anos da vida de cada um, a universidade passa a ser uma marca identitária muito grande. Subconscientemente aquela camisola diz-lhes de onde eles vêm, quem são. Numa terra onde a gastronomia raramente representa uma marca regional e as chains servem o mesmo no continente inteiro, onde as equipas, muitas vezes chamadas franchises, às vezes mudam de sítio porque não há assistência suficiente, todos (ou quase todos) falam a mesma língua e os gostos são muitas vezes direccionados para as mesmas coisas, a identidade de cada um é criada de forma um pouco diferente do que nós estamos, ou pelo menos eu, estava habituado. A sweatshirt é importante para eles.